A dança das sombras na praça e na torre
Como redes invisíveis, algoritmos e afetos fragmentados redesenham a democracia contemporânea
João Francisco Lobato, Inteligência Democrática (24/01/2026)
A história recente tem revelado um mundo que parece atravessar uma espécie de crepúsculo prolongado, no qual a luz que outrora iluminava consensos mínimos — aqueles frágeis acordos silenciosos que sustentavam a convivência democrática — se dissolve num mar de sombras projetadas pelo avanço tecnológico, pela multiplicação das redes digitais e pela corrosão da confiança pública. A democracia, que durante décadas se apoiou em bases relativamente estáveis, aparece agora como uma construção tremeluzente, submetida à pressão convergente de crises informacionais, sociais e institucionais que se reforçam mutuamente. Estamos diante de uma policrise, não apenas porque vivemos vários problemas simultaneamente, mas porque eles se entrelaçam, amplificam-se e modulam-se dentro de um ambiente comunicacional radicalmente distinto daquele que marcou o século XX.
Revista ID é uma publicação apoiada pelos leitores. Para receber novos posts e apoiar nosso trabalho, considere tornar-se uma assinatura gratuita ou uma assinatura paga.
A ascensão das plataformas digitais globalizadas — com suas engrenagens invisíveis feitas de dados, algoritmos e fluxos sem controle centralizado — alterou profundamente o modo como as sociedades formam opiniões, tomam decisões e se relacionam. De um lado, essas redes ampliaram a liberdade individual, democratizaram o acesso à produção e distribuição de conteúdo, deram voz a grupos antes marginalizados e criaram novas formas de engajamento político. De outro, abriram as comportas para a inundação de desinformação, teorias conspiratórias, discursos de ódio e manipulações emocionais que encontram, nessas arquiteturas distribuídas, o terreno ideal para germinar e se perpetuar.
A polarização política, nesse contexto, deixa de ser um fenômeno meramente eleitoral ou ideológico para assumir uma dimensão identitária e afetiva. A lógica dos conflitos deixa de se organizar em torno de programas e propostas e passa a se estruturar em torno de narrativas morais absolutizadas. O adversário político deixa de ser adversário e passa a ser inimigo; deixa de ser alguém com quem se pode debater e passa a ser alguém cuja própria existência é percebida como ameaça. Esse deslocamento não ocorre no vazio: ele emerge da confluência entre transformações tecnológicas e fissuras sociais, atravessando tanto a vida pública quanto a intimidade das relações pessoais.
Se quisermos compreender a profundidade dessa transformação, precisamos recuar no tempo. Niall Ferguson, em sua obra monumental A Praça e a Torre, nos lembra que o poder sempre oscilou entre duas formas fundamentais: as estruturas hierárquicas centralizadas — a Torre — e as redes horizontais, fluidas e invisíveis — a Praça (1). Ao observar a arquitetura de Siena, Ferguson intui uma metáfora que sintetiza milênios de história política: de um lado, a torre altiva representando o Estado, a burocracia, a autoridade; de outro, a praça aberta simbolizando as relações humanas, as conexões informais, os fluxos subjacentes que moldam sociedades. A história, diz ele, não é feita apenas pelas Torres; é também tecida pelas Praças, por redes que, mesmo invisíveis, sempre desafiaram e reconfiguraram o poder formal.
Essas redes existiam muito antes da internet. Entrelaçaram-se nas rotas comerciais da Antiguidade, nos manuscritos circulados entre monges, nas fraternidades das guildas, nos circuitos intelectuais das Luzes, nas correspondências científicas que ajudaram a consolidar a ciência moderna. Os Medici construíram, através de redes financeiras densas, uma influência política que rivalizava com a de príncipes e papas. As sociedades maçônicas do século XVIII criaram laços cosmopolitas que atravessavam fronteiras em um tempo em que fronteiras eram tudo. E os Illuminati, cuja história real foi devorada por mitologias posteriores, existiram como rede intelectual reformista cuja estrutura celular expressava, ainda que primitivamente, a lógica da comunicação distribuída que define nosso presente.
Redes sempre moldaram a história, mas nada se compara ao que a tecnologia digital permitiu. A internet realizou, em escala global, aquilo que Paul Baran teoriza em sua famosa tipologia: uma rede totalmente distribuída, em que não existe centro, em que cada nó é potencialmente um emissor, replicador e amplificador de informações. Essa arquitetura distribuída, concebida originalmente para resistir a ataques militares e garantir comunicação mesmo sob condições extremas, tornou-se também a infraestrutura ideal para a disseminação de narrativas conspiratórias, boatos, desinformação e discursos extremistas. A resiliência técnica da rede converte-se na resiliência das narrativas que nela circulam.
As teorias da conspiração, nesse ambiente, prosperam como se fossem organismos vivos adaptados a um ecossistema perfeito. Elas se espalham não porque são verdadeiras, mas porque possuem qualidades meméticas que combinam emoção, identidade, ameaça e comunidade. Uma teoria conspiratória oferece sentido num mundo que parece caótico; oferece culpados num mundo que parece injusto; oferece pertencimento num mundo que parece fragmentado. Como bem observa Ferguson, redes não são apenas tecnologias: são formas de sociabilidade, e as conspirações se tornam, para muitos, uma espécie de comunidade.
A psicologia social confirma isso. O conspiracionismo não é apenas ignorância: é defesa identitária. A razão é subjugada pela emoção. A desconfiança em relação às instituições torna-se o solo fértil para que qualquer narrativa alternativa seja acolhida. E, como as redes distribuídas são impossíveis de censurar de maneira centralizada, tais narrativas sobrevivem, mutam-se, adaptam-se, espalham-se, protegidas pelos próprios mecanismos que tornam a internet resistente a falhas.
Quando adicionamos a isso o papel dos algoritmos das grandes plataformas, o cenário torna-se ainda mais complexo. Estas plataformas, desenhadas para maximizar tempo de tela e engajamento, descobriram empiricamente que nada prende tanto a atenção humana quanto aquilo que desperta medo, indignação ou raiva. A informação deixa de circular de acordo com sua relevância ou veracidade e passa a circular de acordo com sua capacidade de mobilizar emoções fortes. Fake news não são apenas erros: são produtos calibrados por algoritmos que aprendem, a cada interação, o que nos afeta mais profundamente. A economia da atenção transforma emoções negativas em capital.
Com isso, os feeds digitais tornam-se arenas de conflito permanente. Cada usuário é mergulhado em uma câmara de eco que reflete e amplifica suas crenças, ao mesmo tempo em que oculta a complexidade do mundo. A política transforma-se em espetáculo contínuo. A deliberação racional, princípio tão caro às democracias liberais, é sufocada por um fluxo incessante de estímulos emocionais. A viralidade torna-se forma de poder, e aquilo que viraliza molda percepções antes mesmo que qualquer verificação possa ocorrer. Velocidade substitui profundidade. Indignação substitui reflexão. Suspensão do diálogo substitui pluralidade.
A consequência direta é a intensificação da polarização, que se infiltra do debate público para o espaço doméstico, afetando relações familiares, amizades e comunidades. Casais se separam por divergências ideológicas. Irmãos param de se falar. Vizinhos desconfiam uns dos outros. O tecido social — essa trama delicada que sustenta a convivência — se desfaz em silêncio. Levitsky e Ziblatt explicam que democracias morrem não apenas quando instituições são capturadas, mas quando a confiança mútua entre cidadãos é destruída. Quando adversários não se reconhecem mais como parte de um mesmo pacto social, o sistema colapsa por dentro.
Aqui, a contribuição de Augusto de Franco torna-se essencial. Para ele, democracia não é apenas regime político: é rede viva, ecossistema de convivência, prática cotidiana de conversação. Democracias nascem quando pessoas interagem em ambientes de confiança, quando vínculos horizontais são fortes, quando existe capital social suficiente para que divergências não se transformem em antagonismos. Quando o capital social se dissolve, o espaço democrático desaparece. Não importa quantas instituições existam: sem convivência, não há base para sustentá-las (2).
Já Francis Fukuyama, ao examinar em Trust as raízes culturais da prosperidade, demonstra que confiança é mais do que virtude moral: é motor econômico, determinante institucional, combustível para cooperação. Sociedades de alta confiança — como ele observa — constroem instituições mais fortes, ambientes mais estáveis e sistemas mais inovadores. Quando a confiança se perde, substitui-se cooperação por conflito, parceria por suspeita, abertura por retração. Democracias de baixa confiança tornam-se vulneráveis à corrupção, à paralisia e à emergência de líderes autoritários (3).
Essas duas perspectivas — a convivência de Franco e o trust de Fukuyama — convergem em um diagnóstico claro: a crise democrática contemporânea é essencialmente uma crise de confiança e de relações. E, portanto, sua superação exige soluções que transcendam reformas jurídicas e legislativas. Exige transformações no modo como vivemos juntos.
Felizmente, ao redor do mundo, emergem iniciativas que buscam restaurar o diálogo e reconstruir o capital social. Processos restaurativos inspirados em práticas indígenas e comunitárias têm se mostrado capazes de reduzir tensões e reatar laços rompidos. Assembleias sorteadas de cidadãos — experimentadas na Irlanda, na França, na Bélgica — demonstram que a deliberação pública qualificada ainda é possível quando se cria ambiente protegido da polarização algorítmica. Plataformas de crowd‑law e experimentos como o vTaiwan revelam que tecnologia pode ser usada não para radicalizar, mas para tecer consensos.
Além dessas práticas, cresce o debate sobre a necessidade de regulação das plataformas algorítmicas, de forma a limitar a opacidade, reduzir os incentivos à desinformação e responsabilizar empresas que, de fato, hoje funcionam como as novas Torres da era digital: instituições privadas que controlam fluxos públicos de informação.
A reconstrução do capital social, porém, é processo lento. Requer redes de convivência territorial, projetos locais de cooperação, educação civil baseada em escuta e respeito, fortalecimento de vínculos intergrupais, mediação comunitária. Não se trata apenas de mudar leis, mas de mudar hábitos. Democracias florescem onde pessoas conversam; minguam onde se silenciam mutuamente.
A conclusão que se impõe, diante de tudo isso, é que a democracia contemporânea vive uma batalha estrutural entre a Torre e a Praça, entre a necessidade de instituições fortes e a força disruptiva das redes horizontais, entre o desejo de estabilidade e a potência caótica da viralidade. Mas essa batalha não será vencida pela imposição de uma forma sobre outra. Democracia nunca foi unanimidade; sempre foi a arte difícil de viver entre diferenças. Para restaurar sua vitalidade, será preciso reconstruir espaços nos quais divergências possam coexistir sem destruição. Será preciso restaurar confiança — esse bem frágil, invisível e absolutamente essencial.
Democracia é, antes de tudo, uma obra de relações humanas. Não há algoritmo capaz de substituí-la. Não há fake news capaz de eliminá-la por completo. Mas também não há instituição capaz de sustentá-la se a confiança desaparecer. Entre a Torre que perde autoridade e a Praça que se inflama, resta-nos a tarefa de reencontrar caminhos de convivência. É nesse intervalo — entre a verticalidade das instituições e a horizontalidade das redes — que vive a esperança democrática.
Talvez a democracia do futuro precise se reinventar, como tantas vezes o fez no passado. Talvez a Torre precise aprender a ser mais transparente, e a Praça precise aprender a ser mais responsável. Talvez precisemos de novas redes de convivência, novos pactos, novas formas de deliberação e governança. Mas, antes de tudo, precisaremos de confiança. Sem ela, nada é possível. Com ela, tudo volta a ser.
Notas
(1) Ferguson, Niall (2017). A Praça e a Torre. São Paulo: Planeta, 2018.
(2) Franco, Augusto (2023). Como as democracias nascem. São Paulo: Casas da Democracia, 2023.
(3) Fukuyama, Francis (1995). Confiança: as virtudes sociais e a criação da prosperidade. Rio de Janeiro: Rocco, 1996.



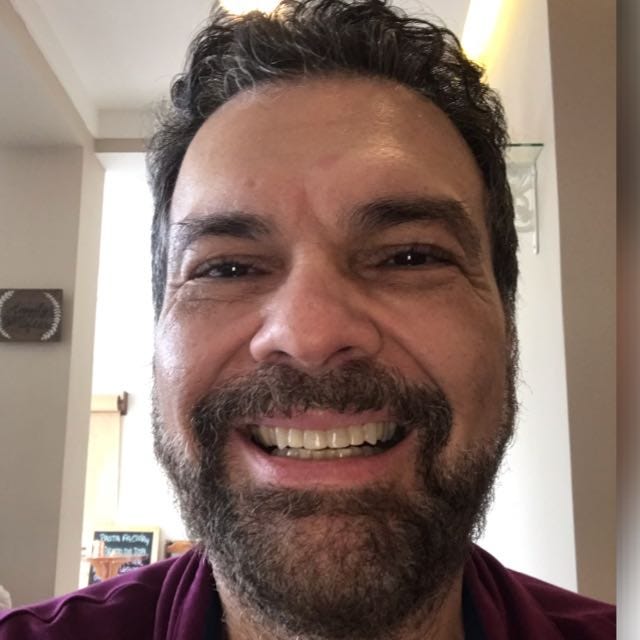
Excelente texto, Caro João Lobato!