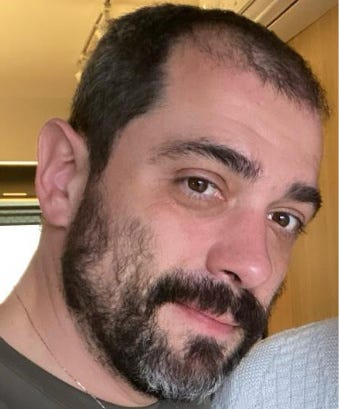Potência relacional e potência convivencial
Um manifesto filosófico para o humano no século 21
Diogo Dutra, Inteligência Democrática (02/09/2025)
Introdução Geral
Há pelo menos duas décadas temos vivido uma tensão entre dois mundos.
De um lado, um mundo vertical, hierárquico, centralizado, constituído por instituições que carregam séculos de cultura e modos de governar. Estados, corporações, partidos, igrejas e exércitos ainda funcionam sob a lógica do comando e da obediência, do controle e da vigilância. Do outro lado, o surgimento de mundo mais horizontal: rizomático, distribuído, feito de redes, afinidades e cocriações. Um mundo que pede passagem, não como utopia, mas como Zeitgeist — espírito de uma época futura que se anunciou, pulsou no subterrâneo de uma vida cotidiana, mas que não conseguiu emergir com toda sua potência.
Esse movimento horizontal não nasceu simplesmente com a internet, mas nela encontrou expressão visível (e escalável). A cultura do open, do compartilhado, dos códigos livres e da colaboração global sinalizou a possibilidade de um viver mais reticular. Mas, enquanto esse mundo ensaiava sua entrada, o outro resistiu — e resistiu inclusive apropriando-se das mesmas tecnologias para reforçar sua lógica vertical.
Nesse momento, com a aceleração do movimento gerado pela inteligência artificial, essa disputa se intensificou. A IA, que poderia expandir campos de convivência e abertura, tem sido majoritariamente implementada como ferramenta de automatização vertical: algoritmos de comando e controle, sistemas de vigilância, estruturas cada vez mais centralizadas. O risco é claro: a vida humana pode ser reduzida a desempenho, eficiência e obediência, em que homens e mulheres se comportam mais como máquinas do que como humanos.
Reafirmar a potência horizontal torna-se, portanto, um imperativo existencial. Não apenas como alternativa abstrata, mas como estilo de vida: um estilo de saúde convivencial, de alegria ativa, de potência de viver. É nesse contexto que este ensaio se insere: propor uma reconstrução da ideia de potência — da genealogia clássica (Nietzsche, Espinosa, Foucault, Deleuze & Guattari) até sua reelaboração contemporânea (Maturana, Arendt, Morin) — para mostrar que a vida não se realiza na genialidade isolada, mas na potência convivencial.
Talvez seja a partir dessa perspectiva, dessa reafirmação do que nos faz mais humanos é que encontraremos novas sinergias com a Inteligência Artificial de maneira a não nos deixar cooptar por um mundo verticalizado que nos torna menos humanos, mais tristes, mais doentes e mais perigosos para nós mesmos.
Parte I – Genealogia da Potência (Nietzsche, Espinosa, Foucault, Deleuze & Guattari)
1. Nietzsche: a vontade de potência como afirmação da vida
A noção de vontade de potência (Wille zur Macht) atravessa a obra de Nietzsche, ainda que de forma fragmentária e múltipla. Diferente da interpretação vulgar — que a reduz a desejo de domínio —, em Nietzsche ela é um conceito vital: a vida, em sua essência, não quer apenas conservar-se, mas expandir-se, transbordar, intensificar-se.
Na obra Genealogia da Moral, Nietzsche escreve:
“O que o homem quer… é a expansão da sua potência; o instinto fundamental de toda criatura viva é o instinto de potência — não de conservação.” (Genealogia da Moral, § 12).
Aqui Nietzsche deixa claro o ponto central: a vida não é movida pelo medo da morte ou pela simples autopreservação, mas pelo desejo de expandir-se, de ultrapassar-se, de afirmar-se em novas formas. O que ele chama de vontade de potência não é um “poder sobre” no sentido de controle, mas um “poder de” no sentido de criação e intensificação da própria vida.
A vontade de potência é, portanto, o motor criativo. É o que faz da vida algo afirmativo, não mero instinto de sobrevivência. Nietzsche se distancia radicalmente de Schopenhauer: enquanto este falava em “vontade de viver” (uma carência que busca satisfação), Nietzsche afirma a vida como excesso, como criação de valores.
Porém, em Nietzsche, essa força vital ainda se concentra em figuras singulares — o criador, o artista, o filósofo, o Übermensch. Há uma marca de individualidade: a grandeza da vontade de potência é a capacidade de um sujeito afirmar o mundo em sua totalidade, inclusive sob a forma extrema do eterno retorno:
““A doutrina do eterno retorno significa: viver de tal maneira que se queira viver ainda uma vez e sempre do mesmo modo. Essa é a grande disciplina do espírito.” (Fragmentos Póstumos (1881, 11[141])).
Esse é o teste da potência: poder dizer sim à vida, inclusive em sua repetição infinita. O que aqui, neste ensaio, se propõe, contudo, é de deslocar essa noção do indivíduo criador para o campo das relações: pensar a vontade de potência não como força isolada, mas como campo relacional de criação, onde a potência é medida pela capacidade de mobilizar vínculos e cocriar.
2. Espinosa: conatus, afetos e a alegria ativa
Muito antes de Nietzsche, Espinosa já havia proposto que a essência de cada coisa é seu esforço de perseverar em ser. Em sua Ética, lemos:
“Cada coisa, na medida em que está em si, esforça-se por perseverar em seu ser.” (Ética, III, prop. VI).
Esse esforço é o conatus. Não se trata de instinto de conservação, mas de tendência imanente: cada ser procura atualizar sua essência, manter-se em ato.
Mas a chave está na relação: nossa potência aumenta ou diminui conforme os encontros que estabelecemos. Espinosa distingue os afetos que aumentam a potência de agir (alegrias) daqueles que a diminuem (tristezas). No escólio da proposição XI do livro III, ele escreve:
“A alegria é a passagem do homem de uma perfeição menor para uma maior.” (Ética, III, prop. XI, escólio).
A potência não é, portanto, isolada: é sempre modulada pelas relações que nos afetam. Quando encontramos outro corpo que se compõe com o nosso, nossa potência cresce; quando nos deparamos com algo que nos descompõe, ela diminui.
Essa leitura é fundamental para podermos pensar uma potência relacional: não existe sujeito isolado. A vida é sempre interafetação. E mais: a experiência da alegria ativa — quando entendemos a causa do aumento da potência — se aproxima do que aqui chamamos de “potência subjetiva”: a percepção consciente de que podemos agir mais, de que nos ampliamos pelo encontro.
Nietzsche radicalizará essa ideia ao transformar alegria em afirmação incondicional da vida. Mas Espinosa fornece a base: a potência é sempre uma experiência relacional, aumentada ou diminuída pelos encontros.
3. Foucault: poder, dispositivos e ausência de exterior
Se Nietzsche e Espinosa pensaram a potência em termos vitais, Foucault traz a noção de poder como rede histórica. Em Microfísica do Poder, afirma:
“O poder está em toda parte; não porque englobe tudo, mas porque vem de todos os lugares.” (Microfísica do Poder, p. 89).
O poder, para Foucault, não é substância nem propriedade. Não se localiza apenas no Estado ou na lei, mas nas práticas cotidianas, nos discursos, nos dispositivos que normalizam condutas. Ele não é exterior ao sujeito, mas constitutivo: somos moldados por suas micro-relações.
Em Vigiar e Punir, vemos como o poder disciplinar organiza corpos e tempos:
“O poder disciplinar é com efeito um poder que, em vez de se apropriar e de retirar, tem como função maior ‘adestrar’; isto é, adestrar para retirar do corpo tempo e trabalho, em vez de bens e riqueza.” (Vigiar e Punir, p. 133).
A microfísica do poder revela que as relações são sempre atravessadas por comandos, vigilâncias, normalizações. Não há exterioridade pura: a vida está enredada.
Contudo, Foucault abre espaço para resistências. Se o poder vem de todos os lugares, a resistência também. Mas ela aparece, em sua obra, muitas vezes como reação ou dobra. O desafio é pensar, a partir dele, não apenas resistências negativas, mas linhas de criação positiva. Ou seja: passar do poder à potência, o que nos leva à leitura de Deleuze sobre Foucault.
4. Deleuze & Guattari: o rizoma como multiplicidade
É em Mil Platôs que Deleuze e Guattari propõem a imagem do rizoma, em oposição ao modelo arborescente da árvore.
“Um rizoma pode ser rompido, interrompido em qualquer lugar, e retoma segundo uma ou outra de suas linhas, e mesmo segundo outras.” (Mil Platôs, p. 15).
“Qualquer ponto de um rizoma pode ser conectado a qualquer outro, e deve sê-lo.” (Mil Platôs, p. 14).
Enquanto a árvore remete a unidade, origem, genealogia e hierarquia, o rizoma remete a multiplicidade, heterogeneidade, transversalidade. É uma rede sem centro, aberta a conexões inesperadas, resistente à totalização.
Essa figura nos ajuda a pensar a potência relacional: não como estrutura vertical de comando, mas como campo horizontal de conexões criativas. A força não vem do topo, mas da capacidade de conectar-se, recompor-se, criar linhas de fuga.
Na mesma direção, Deleuze, em seu livro “Foucault”, descreve o poder não como substância ou instituição, mas como diagrama: um campo de relações de forças em perpétuo devir. O diagrama não é lugar estável nem estrutura fixa, mas um não-lugar, espaço instável em que as forças se relacionam, variam e se recombinam. Ele é ao mesmo tempo histórico e mutante, contingente e necessário. Deleuze recorre à imagem da cadeia de Markov: cada lance depende do anterior, mas abre sempre para o acaso, para a mutação.
Essa concepção oferece uma chave para compreender os movimentos do mundo atual: não existem apenas instituições sólidas que moldam condutas, mas também fluxos subterrâneos, instabilidades e linhas de fuga. O rizoma e o diagrama, em conjunto, constituem imagens complementares: ambos recusam a centralidade e a fixidez, insistem no movimento e na multiplicidade, e abrem espaço para pensar a potência como criação em redes de relações sempre provisórias.
5. Síntese: da genealogia à potência relacional
Reunindo essas quatro tradições:
Nietzsche: potência como impulso criador, afirmação incondicional da vida.
Espinosa: potência como esforço de perseverar, aumentada ou diminuída pelos encontros.
Foucault: poder como rede capilar, sem fora absoluto, mas com possibilidades de resistência.
Deleuze & Guattari: rizoma como figura da multiplicidade, modelo para pensar redes horizontais.
A proposta de uma potência relacional emerge dessa genealogia como deslocamento. Não apenas vontade individual, nem apenas poder disciplinar, mas campo rizomático de encontros recorrentes e cocriativos, que geram não apenas resistência, mas criação.
A genealogia nos mostra que potência não é comando nem desejo, mas experiência relacional que amplia a vida.
Parte II – Por uma Potência Relacional
A partir da genealogia anteriormente explorada — Nietzsche e a vontade de potência, Espinosa e o conatus, Foucault e a microfísica do poder, Deleuze e o diagrama rizomático — torna-se possível organizar uma formulação própria sobre o que seja a potência sob uma perspectiva relacional. Essa perspectiva não é mera alternativa conceitual, mas uma tentativa de deslocar a noção de poder, entendida como verticalidade, comando e sujeição, para recolocá-la no terreno da vida cotidiana como experiência de convivência. A potência, vista por esse ângulo, aproxima-se do que nos define mais propriamente como humanos: a capacidade de propor, mobilizar e cocriar em conjunto. É nesse espaço relacional, tecido de confiança e recorrência, que se manifesta não apenas uma teoria social, mas uma experiência existencial de realização e de sentido — talvez uma das expressões mais intensas do sentimento humano de estar vivo.
1. Potência relacional e distinção em relação ao poder
A distinção entre poder e potência é fundamental. O poder, no sentido foucaultiano, é relacional, mas opera em registros de sujeição, disciplina e comando. Ele se exerce verticalmente: a eficácia depende de papéis formais, contratos, hierarquias. A potência, em contraste, é a experiência subjetiva de poder agir em conjunto a partir de vínculos não obrigatórios, mas cocriativos.
Pode-se propor a seguinte diferenciação:
O poder é institucional e garantido: decorre de estruturas verticais que asseguram a execução.
A potência é relacional e contingente: não é garantida, mas experimentada como possibilidade que emerge das redes vivas.
Nesse sentido, a potência relacional não elimina a dimensão individual, mas a desloca: a subjetividade não é fechada em si, mas se define pela capacidade de mobilizar laços e compor ações.
2. Estrutura da potência relacional
A potência relacional pode ser descrita a partir de três dimensões:
Campo de potência: o conjunto de relações de afinidade, recorrência e confiança que constituem o espaço mobilizável de um sujeito. Não se trata apenas de contatos latentes, mas de vínculos testados em convivência e cocriação.
Potência percebida: o grau em que um sujeito se sente capaz de propor e agir a partir desse campo. É uma dimensão fenomenológica: a percepção de que “as coisas podem acontecer” porque já aconteceram em outras ocasiões.
Atualização da potência: o momento em que uma proposição encontra resposta e se transforma em ação cocriativa. O campo se atualiza em prática, ainda que efêmera, deixando traços que fortalecem o estoque de confiança.
Esse processo é dinâmico: cada atualização reforça a percepção, cada percepção amplia o campo, e o campo, por sua vez, gera novas atualizações.
3. Afinidade, recorrência e confiança
A potência relacional depende de três condições principais:
Afinidade: a percepção de campo comum, de interesse compartilhado ou de abertura para cocriar. Diferente do networking, não é regida por cálculo utilitário, mas por ressonância.
Recorrência: os encontros reiterados que sedimentam confiança. Relações eventuais ampliam possibilidades, mas é a repetição que gera memória de ação conjunta e campo mobilizável.
Confiança: a expectativa fundada de que a proposição encontrará resposta. Essa confiança não é institucional (não deriva de contrato), mas existencial (deriva de experiência vivida).
Espinosa já havia formulado que a alegria ativa é o aumento de potência nos encontros que compõem nossa natureza. A potência relacional é exatamente a intensificação dessa experiência em laços que se testam pela recorrência e pela cocriação.
4. Cocriação como condensador da potência
Afinidade e recorrência são condições necessárias, mas a verdadeira condensação da potência ocorre na cocriação. Conviver é condição de possibilidade, mas só a realização conjunta — ainda que em projetos pequenos, efêmeros, lúdicos — transforma afinidade em confiança efetiva.
A cocriação opera como prova: demonstra que a rede não é apenas potencial, mas atualizável. Essa prova alimenta a percepção subjetiva de potência e reforça o campo para futuras proposições. É um ciclo virtuoso: propor → cocriar → reforçar confiança → aumentar potência percebida.
5. Potência subjetiva: a experiência fenomenológica
O núcleo da potência relacional é subjetivo. Não basta considerar o conjunto objetivo de relações: é preciso levar em conta a experiência fenomenológica de sentir-se potente. A potência é tanto mais concreta quanto mais o sujeito experimenta que suas proposições encontram resposta, que suas redes se mobilizam, que os projetos emergem da ação coletiva.
Essa experiência é qualitativamente distinta da felicidade. Felicidade pode ser episódica, ligada a estados emocionais. Potência subjetiva é saúde existencial: sentir-se em fluxo com a vida, ampliado pelo contato com outros, experimentando a eficácia não do comando, mas da criação compartilhada.
6. Para além do networking: potência como excedente
A teoria da potência relacional se distingue de concepções contemporâneas que reduzem os laços sociais a networking. O networking é calculado, utilitário, orientado a funções: relacionar-se para obter acesso, informação ou oportunidade. É estruturado pelo princípio do “o que esta pessoa pode me dar?”.
A potência relacional, em contraste, não se funda na utilidade imediata, embora possa gerar efeitos práticos. Ela se funda no excedente da convivência: no espaço em que relações, mesmo despretensiosas, geram confiança, doação recíproca e abertura para ações inesperadas.
Por isso, deve ser pensada como espaço de cocriação social, não reduzida à instituição, ainda que possa ser institucionalizada em certos momentos. O ponto de partida, porém, é rizomático: alianças móveis, campos abertos, linhas de fuga.
7. Síntese: a formulação da potência relacional
A teoria da potência relacional pode ser resumida nos seguintes pontos:
Potência não é poder. O poder é vertical, garantido por hierarquia; a potência é horizontal, mobilizada pela confiança.
Potência é relacional. Ela emerge do campo de vínculos, não de uma interioridade isolada.
Potência é subjetiva. Importa não apenas o que pode ser feito objetivamente, mas o que se percebe como possível.
Potência é cocriativa. Seu verdadeiro condensador é a realização conjunta, que transforma afinidade em confiança e confiança em ação.
Assim, a potência relacional se apresenta como teoria alternativa à lógica do poder: não comando, mas mobilização; não hierarquia, mas rizoma; não função, mas convivência. É, em última instância, a tentativa de devolver à vida seu caráter humano, não como eficiência programada, mas como criação compartilhada.
Parte III – Sobre as Implicações
As duas primeiras partes deste ensaio reconstruíram uma genealogia da potência — de Nietzsche a Deleuze — e, em seguida, formularam a noção de potência relacional, concebida como experiência subjetiva e intersubjetiva de mobilização, confiança e cocriação. Esta terceira parte busca avançar para outro plano: o das implicações. Mais do que uma análise conceitual, trata-se aqui de propor um desdobramento ético e prático, quase na forma de manifesto.
Essa passagem é necessária porque nenhuma teoria da potência pode permanecer apenas no nível abstrato. Pensar a potência relacional é também responder à pergunta sobre como queremos viver, como organizamos nossas instituições, como lidamos com a tecnologia e, sobretudo, como cultivamos nossas relações cotidianas. É a partir dessa perspectiva que se delineia um campo de implicações políticas, econômicas e pessoais — sempre com a preocupação de afirmar um estilo de vida mais humano.
Antes, porém, de desdobrar tais implicações, é preciso fazer um parêntese introdutório: trazer à cena Humberto Maturana. Pois, embora Nietzsche, Espinosa, Foucault ou Deleuze tenham elaborado conceitos decisivos sobre potência, liberdade, tristeza ou poder, nenhum deles se ocupou diretamente de responder à questão do que nos torna, propriamente, humanos. Suas reflexões estavam voltadas à afirmação da vida, à crítica das sujeições, à abertura de linhas de fuga — não à diferenciação explícita entre humano, animal e máquina. Hoje, no entanto, diante da revolução da inteligência artificial, essa distinção torna-se urgente. O medo contemporâneo não é apenas de ver o aparato cognitivo ultrapassado pelas máquinas, mas de sofrer uma crise mais profunda: a desumanização que decorre do predomínio das relações verticais e funcionais, em detrimento da convivência horizontal e criadora. É aqui que Maturana se torna central, pois sua biologia do social permite situar, no plano das interações recorrentes, do linguajear e do emocionar, o núcleo que diferencia o humano e oferece base para afirmar uma nova humanidade. Só então será possível compreender as implicações políticas, tecnológicas e existenciais da potência relacional em um contexto marcado pela disputa entre o mundo vertical e o mundo horizontal que pede passagem.
1. Humberto Maturana: a biologia da convivência
Se a genealogia filosófica nos conduziu até aqui — Nietzsche com a vontade de potência, Espinosa com o conatus, Foucault com a microfísica do poder, Deleuze e Guattari com o rizoma —, nenhum desses autores, em suas obras, teve como preocupação central a pergunta que hoje se torna incontornável: o que nos torna humanos, diante da ameaça de uma desumanização crescente? Essa lacuna emerge com força justamente agora, quando a revolução da inteligência artificial desloca o debate do campo das instituições para o campo da própria humanidade. A questão não é apenas cognitiva — se máquinas podem pensar —, mas sobretudo existencial: o que resta do humano quando a vida é reduzida a função, cálculo, eficiência?
É nesse ponto que a obra de Humberto Maturana se torna decisiva. Sua teoria da autopoiesis, formulada em parceria com Francisco Varela, define o vivo como sistema capaz de produzir e manter a si mesmo em um processo circular de autorregulação. A vida não é algo dado de fora, mas um movimento interno de autoprodução. Essa definição vale para todos os organismos vivos, mas em Maturana abre-se um passo adicional: se todo ser vivo se constitui por meio de interações com o meio, os seres humanos se distinguem por uma forma peculiar de interação, baseada no que ele denomina acoplamento estrutural.
O acoplamento estrutural é o processo pelo qual organismo e meio se transformam mutuamente em suas recorrências de interação. Não se trata de adaptação passiva, mas de coajustamento dinâmico: viver é sempre viver com. A partir daí, Maturana formula sua tese mais original: o humano se constitui pelo entrelaçamento do linguajear e do emocionar. O linguajear não é apenas um sistema simbólico ou cognitivo, mas a coordenação de coordenações de ações e emoções em fluxo. O emocionar, por sua vez, é a matriz das disposições que tornam possível a convivência.
Desse entrelaçamento decorre a noção de que o social é um fenômeno biológico. O humano não é definido pela racionalidade ou pela técnica, mas pelo modo como se constitui em redes recorrentes de convivência, nas quais se estabilizam confiança, aceitação e cultura. As instituições, nesse sentido, são cristalizações históricas de padrões recorrentes de interação.
É aqui que se encontra a chave para a crise atual. Animais vivem em acoplamentos instintivos, mas não desenvolvem linguajear reflexivo. Máquinas podem operar cálculos e até simular linguagem, mas não vivem no espaço do emocionar, nem são capazes de autopoiesis plena. O humano se singulariza por essa conjunção: autopoiesis biológica, acoplamento estrutural social, linguajear e emocionar como bases da convivência.
Assim, enquanto a revolução da inteligência artificial ameaça reduzir a vida humana a desempenho técnico e cálculo cognitivo, a obra de Maturana oferece um contraponto: a verdadeira crise não está na máquina ultrapassar o intelecto, mas em nós esquecermos que o humano se define no viver com, no cultivo de relações recorrentes que fundam confiança, cultura e, em última instância, humanidade.
2. Política: a potência como fundamento convivencial
Se, para Maturana, o humano se constitui no entrelaçamento do linguajear e do emocionar, então a política não pode ser pensada apenas como luta pelo poder, mas como a forma institucionalizada de organizar a convivência. Nesse sentido, a política é inseparável da biologia do humano: não há sociedade sem recorrência de interações, sem aceitação mútua, sem a capacidade de coordenar ações em comum.
É exatamente essa perspectiva que dá densidade ao diálogo com Hannah Arendt. Em A Condição Humana, Arendt insiste que a política não nasce da necessidade biológica nem da fabricação técnica, mas da ação plural. Agir politicamente é iniciar algo novo em conjunto, em um espaço público de aparição onde os homens e mulheres se reconhecem como iguais e distintos ao mesmo tempo. A pluralidade é, para ela, a condição fundamental da política.
Colocadas lado a lado, as visões de Maturana e Arendt revelam um ponto decisivo: a política só pode ser pensada como potência convivencial. O que nos torna humanos — a capacidade de viver em linguajear e emocionar recorrentes — é também o que funda o espaço político. E aquilo que Arendt chama de ação é justamente o atualizar-se dessa convivência em iniciativas comuns, em começos plurais.
É nesse sentido que Maturana, em Brincar e Amar: os Fundamentos Esquecidos, pode afirmar que a democracia não é simplesmente uma forma de governo, mas um modo de vida. Democracia, aqui, não significa apenas instituições eleitorais ou separação de poderes, mas a disposição cotidiana de reconhecer o outro como legítimo, de conviver em confiança, de sustentar redes de cooperação. Esquecemos disso quando reduzimos a política a cálculo de poder.
As implicações de uma teoria da potência relacional são claras:
Primeiro, desloca-se a política da esfera da captura do poder para a esfera da criação de convivência. O foco não está em quem governa ou obedece, mas em como as relações recorrentes se organizam em campos de confiança e cocriação.
Segundo, reconfigura-se a própria ideia de democracia. Em vez de mero procedimento, ela passa a ser compreendida como prática social contínua de aceitação mútua, como espaço de cultivo de redes horizontais que sustentam a vida em comum.
Terceiro, recoloca-se o desafio contemporâneo: diante da aceleração tecnológica e da tentação de verticalizar o mundo através de algoritmos de comando e controle, a política da potência relacional exige criar e proteger espaços horizontais de ação e convivência.
Assim, a nova teoria da potência não apenas interpreta o campo político, mas o redefine: a política não é a arte de governar, mas a arte de conviver. Nela, o humano não se reduz a engrenagem de poder, mas se afirma como ser de relações. A potência relacional, entendida nesse horizonte, se torna fundamento ético da política — não para tomar o poder do Estado, mas para expandir os espaços de vida convivencial que tornam possível uma democracia viva.
3. Economia e inovação: redes de confiança como fundamento da potência
Se a política encontra em Maturana e Arendt a chave da convivência e da pluralidade, a economia e a inovação podem ser reinterpretadas à luz da mesma lógica. Maturana lembra que toda forma de convivência humana se organiza a partir de relações recorrentes, em que o linguajear e o emocionar se entrelaçam, criando confiança. Essa confiança não é acessório: é fundamento. Daí que Francis Fukuyama, em Trust, tenha podido afirmar que a prosperidade das nações depende da capacidade de construir laços de confiança social que sustentem associações, empresas e instituições.
Nesse mesmo sentido, Deleuze e Guattari oferecem a imagem do rizoma: redes abertas, descentralizadas, que não dependem de um centro, mas se multiplicam por conexões laterais. “O rizoma é feito de platôs. Cada platô é sempre no meio, e não importa o ponto em que se vá a ele, ele se mantém como meio” (Mil Platôs, p. 24). É assim que se pode compreender a emergência dos ecossistemas de inovação: como rizomas que florescem em confiança, recorrência e afinidade, não como máquinas verticais de poder.
A história recente confirma esse ponto. Sebastian Mallaby, em The Power Law, descreve como o Vale do Silício nasceu não apenas de tecnologia ou capital, mas de uma cultura de rede construída pelo venture capital: pequenos grupos de investidores e empreendedores que se testavam em conjunto, apostavam uns nos outros e, pela repetição dos vínculos, criaram um campo de potência econômica inédito. O mesmo se pode dizer dos ecossistemas de inovação espalhados pelo mundo: seu motor não foi a hierarquia, mas a capacidade de converter confiança em criação.
Essa perspectiva revela também um risco. Muitas vezes, a linguagem de Nietzsche sobre o super-homem foi apropriada de modo reducionista, como justificativa de um elitismo empreendedor que ecoa o imaginário de Atlas Shrugged, de Ayn Rand: a ideia de que apenas alguns “gênios” carregam o mundo nas costas, enquanto a maioria se torna descartável. Esse libertarianismo de elite, que circula em certos círculos pós-Vale do Silício, reforça desigualdades, gera mais tristeza do que alegria, e corrói o tecido convivencial que sustenta a própria economia.
É aqui que uma teoria da potência relacional oferece um contraponto. O que funda a vitalidade econômica não são indivíduos isolados, mas redes de confiança recorrente; não são gênios solitários, mas campos de cocriação. A inovação que realmente transforma não é a que exalta poucos, mas a que multiplica capacidades entre muitos. Preservar a potência relacional significa proteger o ecossistema da degeneração em elitismo e reforçar seu caráter de laboratório coletivo: mais bem-estar, mais soluções, mais giro econômico.
Assim, as implicações são claras:
A economia precisa ser compreendida como espaço de convivência, não apenas de competição.
A inovação deve ser vista como processo de cocriação, não como obra de indivíduos excepcionais.
A inteligência artificial e outras tecnologias devem ser apropriadas para expandir a potência convivencial, e não para reforçar mecanismos de exclusão e verticalização.
Em outras palavras: a base da economia não é o poder do capital, mas a potência da confiança, ou do capital social. É a rede de relações vivas que gera não apenas produtos, mas soluções, não apenas lucro, mas saúde convivencial.
4. Vida pessoal: conatus, amor fati e biologia do amor
Se a política e a economia podem ser reorganizadas a partir da potência relacional, é na vida pessoal que se encontra o núcleo mais profundo da implicação. Pois a questão central não é apenas como governamos ou como produzimos, mas como vivemos.
Espinosa oferece a primeira chave: a vida é esforço de perseverar no ser, e a alegria é o sinal de que nossa potência aumenta nos encontros que nos compõem. “A alegria é o afeto pelo qual a mente passa a uma perfeição maior” (Ética, III, Def. II). A vida boa, portanto, não é definida pela ausência de dor, mas pela multiplicação de encontros que nos expandem.
Nietzsche radicaliza esse ponto ao propor o amor fati: não apenas suportar o necessário, mas amá-lo. “Minha fórmula para a grandeza do homem é amor fati: nada querer diferente, nem para frente, nem para trás, nem em toda a eternidade” (Ecce Homo). Essa afirmação da vida em sua totalidade é também a afirmação da potência: a disposição de dizer sim ao que se repete, inclusive ao eterno retorno.
Maturana completa essa tríade ao introduzir a noção de biologia do amor. O humano, diz ele, não se define pelo acúmulo de poder nem pela capacidade cognitiva isolada, mas pela convivência: pela aceitação do outro como legítimo outro na recorrência das interações. A saúde, nesse sentido, não é apenas corporal ou psicológica, mas convivencial. Amar, entendido assim, não é sentimento privado, mas condição de possibilidade para que a vida humana se realize em plenitude.
Dessa articulação decorre uma implicação decisiva: a vida em potência não se reduz à busca de liberdade individual nem à conquista de poder sobre outros. Esses elementos podem fazer parte da experiência humana, mas não a esgotam. O que define a saúde mais profunda da vida é a capacidade de viver em rede, de se expandir na convivência, de encontrar alegria no fluxo das relações.
Por isso, a vida pessoal é também vida política e econômica em seu fundamento. Cada vez que cultivamos vínculos, reforçamos a confiança, cocriamos projetos, estamos não apenas vivendo melhor, mas gerando humanidade. Essa é a essência que provoca a discussão: a potência relacional não é apenas uma categoria analítica, mas a chave para repensar o que nos torna humanos em meio à crise contemporânea.
Conclusão – Das implicações à convocação
Atravessar Maturana, Arendt, Espinosa, Nietzsche, Deleuze e Guattari foi mais do que um exercício de diálogo filosófico. Foi a tentativa de situar a noção de potência relacional em um horizonte de implicações concretas. O que emergiu desse percurso é uma constatação clara: a vida humana se define menos pela conquista de poder e mais pela capacidade de criar e sustentar convivências.
No campo político, isso significa reconhecer que a democracia não pode ser reduzida a mecanismos de governo, mas precisa ser vivida como modo de vida: redes de confiança, espaços de pluralidade, práticas de ação comum.
No campo econômico e da inovação, significa deslocar o eixo da genialidade isolada para a confiança coletiva, da verticalização corporativa para ecossistemas de cocriação que produzem tanto soluções quanto bem-estar.
No campo pessoal, significa assumir que a saúde existencial não é mero desempenho individual, mas fluxo de alegria ativa que nasce das relações recorrentes e da aceitação mútua.
Esse conjunto de implicações aponta para uma crise contemporânea que é, em sua raiz, uma crise de humanidade. A inteligência artificial pode ultrapassar o aparato cognitivo, mas a verdadeira ameaça não está nisso: está no risco de reduzirmos a vida a função, controle e verticalidade, esquecendo que o humano se constitui no viver-com, no linguajear e no emocionar que sustentam a convivência.
É por isso que se torna necessário dar um passo além. Se a genealogia conceitual nos trouxe até aqui e se a formulação da potência relacional nos ofereceu uma chave de leitura, o momento agora é de afirmação. O que está em jogo não é apenas compreender, mas escolher; não apenas interpretar, mas convocar.
Assim, a próxima parte deste ensaio será um Manifesto. Não um manifesto apressado ou meramente retórico, mas uma elaboração mais completa e complexa: uma convocação a afirmar a potência relacional como estilo de vida, como fundamento político, como base econômica e como prática pessoal. Um manifesto que ressoe como chamado ético diante da crise contemporânea, para reafirmar o que nos torna humanos e para escolher, conscientemente, um mundo em que a potência da vida possa florescer.
Parte IV – Manifesto da Potência Convivencial
Todo o caminho percorrido até aqui — a genealogia da potência, a formulação da potência relacional, as implicações políticas, econômicas e pessoais — culmina neste texto final: o Manifesto da Potência Convivencial. Ele não é apenas mais um capítulo, mas a expressão concentrada de tudo que se buscou pensar. Se até agora estivemos analisando, interpretando, cruzando tradições filosóficas e reflexões contemporâneas, aqui o movimento é de afirmação: colocar no mundo um chamado.
Considero este manifesto importante porque é mais do que uma teoria. É uma posição existencial. É o gesto de dizer em voz alta que a vida só floresce em potência quando se vive em convivência. Escrevê-lo é uma forma de compromisso pessoal, mas também de convocação coletiva, pois sei que só faz sentido se ressoar no mundo.
O Manifesto
Vivemos um momento de inflexão. A aceleração das transformações técnicas, a força das redes digitais, e agora o avanço da inteligência artificial colocam em xeque não apenas nossas instituições, mas nossa própria humanidade. O risco maior não é que as máquinas pensem mais rápido do que nós. O risco é que passemos a viver como máquinas: isolados, utilitários, prisioneiros de métricas e desempenhos que nos esvaziam de vitalidade.
Por isso, é urgente deslocar o olhar. A potência não pode continuar confundida com poder, sucesso individual ou performance. A potência que nos mantém vivos, que nos expande, que nos torna mais humanos, é convivencial. Ela nasce das relações que insistimos em cultivar, das recorrências que criam confiança, dos projetos que cocriamos em conjunto.
Se não afirmamos essa potência, se não aprendemos a operar nela de forma consciente, seremos engolidos pelas formas antigas. Formas que insistem em se reafirmar: sociedades hierárquicas, verticais, que reduzem o humano à função e sufocam o novo mundo que pede passagem. O resultado desse sufocamento já conhecemos: isolamento, tristeza, doenças, depressão, perda de vitalidade.
A convivência não é romantismo. Não se trata de acreditar que o mundo inteiro mudará de uma hora para outra. Diferentes mundos coexistirão ainda por muito tempo. Mas há uma escolha diante de nós: podemos afirmar o modo de vida que amplia a potência, ou podemos ceder ao modo que nos reduz a engrenagens de sistemas cada vez mais verticais. A escolha é política, é ética, é existencial.
Esse manifesto é uma convocação para afirmar o mundo que nasce. Não um mundo sem tecnologia, mas um mundo que a utiliza para sustentar e multiplicar o humano. Não um mundo de ingenuidade, mas um mundo de coragem: coragem de olhar para frente sem medo, coragem de reorganizar nossa forma de conviver.
As grandes filosofias que nos trouxeram até aqui — Nietzsche, Espinosa, Foucault, Deleuze — falaram da vida, da potência, do poder. Ler essas obras hoje é perceber que elas precisam ser retomadas e relidas sob a perspectiva do que nos torna mais humanos. É preciso reorganizar suas lições, reinterpretá-las à luz da crise atual, para que não sejam usadas para reafirmar os modelos antigos.
Não se trata de negar o que herdamos, mas de ir além. Precisamos atravessar o que a razão, a crítica e a filosofia nos trouxeram, para afirmar um além que investigue o humano em sua essência convivencial. O que nos distingue das máquinas e dos animais não é apenas o intelecto ou a capacidade de reagir. É a disposição para o encontro, para a confiança, para a criação em conjunto.
Esse é o espaço da potência convivencial: onde a vida se amplia porque se compartilha, onde a vitalidade se multiplica porque se encontra, onde o humano se reafirma não no isolamento, mas no entrelaçamento das relações. Esse é o espaço que precisa ser defendido, cultivado, ampliado.
Afirmar a potência convivencial é recusar a lógica que nos reduz a utilidade. É assumir a convivência como prática cotidiana, como fundamento da política, como base da economia, como saúde da vida pessoal. É, no fundo, um ato de resistência e, ao mesmo tempo, de criação.
Este manifesto é meu chamado e meu compromisso. Quero insistir nos encontros, quero ampliar a confiança, quero cocriar. Quero afirmar a vida como potência convivencial. E convido todos a fazer o mesmo, porque sei que, se não o fizermos, corremos o risco de perder o que temos de mais humano. Mas se o fizermos, podemos inaugurar modos de vida mais pulsantes, mais satisfatórios, mais alegres. Podemos, enfim, escolher a vida em potência.
Conclusão
Este ensaio inteiro nasce de uma inquietação: como não sucumbir à desumanização em um tempo de mudanças aceleradas? Foi das crises, dos incômodos, das leituras e das experiências pessoais que brotou esta reflexão. Não se trata apenas de filosofia em abstrato, mas de um esforço de organizar um pensamento que me atravessa e que sinto necessidade de compartilhar.
O manifesto que aqui se apresenta é a síntese e também a abertura: síntese de um percurso e abertura de um convite. Não é a última palavra, mas uma convocação para que cada um reflita sobre como ampliar sua própria potência convivencial. Pois acredito que, ao partilhar essa reflexão, podemos encontrar caminhos mais humanos, mais vivos, mais pulsantes — tanto na vida individual quanto na coletiva.
O que se oferece, portanto, é menos uma doutrina e mais uma partilha: um chamado para que possamos afirmar juntos que ser humano é viver em potência convivencial.